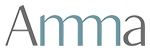Ao longo destes anos de trabalho ao nível do meu próprio desenvolvimento (conhecimento) pessoal, ficou bastante claro que a nossa educação, as nossas vivências e o nosso contexto têm um peso enorme sobre quem nós “somos”. Ao longo do tempo, desde que nascemos, vamos vestindo capas, fatos de personagens, até que um dia nos “tornamos” esses personagens, sem nos apercebermos conscientemente disso. Dependendo da intensidade como fomos vivendo esses personagens, pode ser mais ou menos fácil chegarmos a quem realmente SOMOS.
Do que eu não tinha real consciência era da importância e do poder decisivo que têm todos os rótulos e adjectivos que vamos atribuindo às pessoas.
Quando nasce um bebé na família, prontamente rotulamos a criança, a comparamos a outras crianças e a outras experiências, e fazemos questão de o verbalizar. Desde cedo a criança começa a vestir rótulos e, sem que se aperceba, a agir de acordo com eles e a tentar aperfeiçoá-los, de forma a ir de encontro ao que esperam dela. A própria mãe e o pai se apressam a atribuir-lhe etiquetas. É “esperto” ou “chorão” ou “fácil” ou “difícil”…
Todos os indivíduos carregam consigo uma história de distância entre o nomeado e o vivido? Lamentavelmente, é raro encontrar casos em que isso não aconteça. A meu ver, não vale a pena abordar outras questões antes de saber com clareza através de que lente cada indivíduo observa a si próprio e ao próximo.
A totalidade de crenças, pensamentos, julgamentos, preferências e modos de vida também se organiza a partir de uma quantidade de suposições, ditas por alguém na primeira infância. Inclusive se temos a sensação de termos estado historicamente na vereda oposta à de nossos pais, de que nossos pontos de vista jamais coincidiram, nem a maneira retrógrada que eles têm de viver. Se esse for o caso, nossos pais nomearam de alguma maneira nossa oposição, nossa rebeldia ou nosso equívoco. (…) É frequente que nossos pais nos impinjam o personagem de rebelde sem causa, e então acreditamos, ao longo da nossa vida adulta, que passamos a vida lutando por grandes causas. E nos apresentamos assim à sociedade: como revolucionários, às vezes ostentando certo orgulho por nossa valentia ou arrojo Mas pode acontecer… que procurando detalhadamente em nossa vida concreta não apareça nenhum laivo de coragem nem de heroísmo. E que simplesmente continuemos repetindo o discurso iludido de nossa mãe ou pai, acreditando que somos “isso” que eles nomearam.
Ao ler este livro começo a tomar maior consciência que, afinal, aquilo que os pais dizem é muito menos o que a criança É mas o reflexo do que os pais SENTEM e VÊEM, do seu ponto de vista, de acordo com os seus cansaços e frustrações, alegrias ou expectativas. O que muitos pais não sabem é que, sem querer, começam desde cedo a moldar a personalidade da criança, a atribuir-lhe características e “super poderes”. O perigo desses atributos é que poderão esconder o verdadeiro EU da criança. Mesmo sem ter consciência disso, limamos desde cedo as arestas que mais nos convém limar, realçamos o que mais gostaríamos de ver realçado, e não conseguimos, muitas vezes, permitir que a criança SEJA e se EXPRIMA como É.
A essa altura, estamos desconcertados. Parece difícil demais ver com clareza que personagem adotamos, detectar o motor de nossas ações, compreender que papel obrigamos os entes queridos a representar. Pior ainda, nos parece inalcançável o anseio de impor, com nossa lente,os disfarces preestabelecidos sobre nossos filhos pequenos. Temos muita responsabilidade, porque não se trata apenas de criar os filhos com amor (o que é esperado, a princípio), mas de uma tarefa muito mais complexa. Se queremos criá-los livres, temos de fazer algo para que fiquem livres de nossas projeções. Isso não se resolve permitindo que escolham brinquedos ou roupas, isso não é liberdade. Liberdade é ter o apoio e olhar suficientemente limpo de seus pais.
Se me dedico a olhar minha sombra, se tenho uma atitude permanente de abertura e introspecção, se procuro mestres e guias que me iluminem, se estou atento ao que meus amigos, familiares e colegas de trabalho me apontam, especialmente quando o que me dizem não é bonito, então estou em um caminho que permite integrar as partes ocultas de mim mesmo. Assim, se estou criando filhos pequenos, tudo de que necessitam são pais que questionem a si mesmos da maneira mais honesta possível. (…)
É claro que tudo isso exige treinamento cotidiano e questionamento pessoal permanentes. É trabalhoso e arriscado. Pode levar anos para ser implantado de maneira automática. No entanto, quero reforçar que esse é o único trabalho que, a meu ver, vai nos ajudar a sair dos fundamentalismos – incluídas todas as teorias da criação com apego, criação natural, naturismo, leito compartilhado, amamentação prolongada, fusão mãe-filho e demais postulados progressistas com os quais meu nome é associado – que são muito bonitos e politicamente corretos, mas funcionam também como refúgio para os mais diversos personagens. O que temos de fazer é ser livres. Para isso, é indispensável revisar o “roteiro oficial” que nos impingiram junto com nosso documento de identidade, exortando-nos a cumprir nosso papel. Ser adulto é tomar as rédeas da própria vida, atravessar o bosque para enfrentar nossos dragões internos, olhá-los nos olhos e decidir, no final desse caminho cheio de perigos, qual é o nosso. A partir desse momento, seremos totalmente responsáveis pelas decisões que tomarmos na vida, em todas as áreas, incluída a capacidade de não aprisionar nossos filhos – se os temos – em personagens que não sejam funcionais.
(…)
Então talvez possamos perguntar aos filhos do que precisam de nós, em vez de impor a eles autoritariamente que se adaptem a nossas necessidades e obrigá-los a carregar para sempre as pesadas mochilas do desejo alheio.
Não sei se é só comigo, mas assusta-me pensar que afinal não me conheço, que afinal é muito provável que não seja aquilo que sempre conheci. Mas à medida que vou lendo, mais me fazem sentido determinadas situações, determinados comportamentos. A verdade é que, por vezes, tenho comportamentos que não quero ter. Tenho consciência que quero mudar determinada forma de lidar com algumas situações, que muitas vezes a forma como ajo é determinada pelo meu “piloto automático”. Em situações mais extremas, quase irracionais, voltam velhos padrões, mesmo que me esforce por “lutar” contra eles. Não é fácil, não é imediato, são padrões profundamente enraizados em mim.
Continuemos com o personagem que cada um cuida como se fosse seu maior tesouro. Pensemos que o personagem foi nosso principal refúgio, e isso não é pouca coisa quando somos crianças. O problema é que crescemos, nos tornamos adultos mas interiormente acreditamos que na atualidade devemos enfrentar o mundo com as mesmas ferramentas infantis que utilizamos no passado.
(…)O incrível é que, sendo adultos, continuamos jogando o mesmo jogo da infância. E no fim, quando descobrimos que esse personagem nos foi colocado por mamãe, papai, o avô paterno ou quem seja… acreditamos que a culpa é desse familiar. Aqui começa a tarefa mais ingrata: reconhecer que temos dedicado grande parte de nossa energia vital para lustrar, embelezar, adornar e completar o personagem, porque necessitamos dele mais do que o ar que respiramos. Sem nosso personagem não sabemos viver, não sabemos quem somos, não sabemos como nos relacionar com outros, como trabalhar, como fazer amor, como sustentar nossa moral.
Continuo a ler e à medida que vou lendo, ironicamente, vêm-me à cabeça as ideias dos outros, as opiniões dos outros, o que outros achariam da minha própria opinião…
O tema abordado é o PARTO. Fala-se de repressão sexual, de submissão, de perda do poder feminino, ao “entregar-se o parto”.
De uma forma menos dramática e menos revolucionária concordo com a autora. Identifico-me com o que é dito. Acredito na importância do momento do parto, para o bebé e para a mãe e para a sua relação, da importância do toque e da necessidade de haver condições para criar cumplicidades e ir de encontro a necessidades.
Desde o parto que as mães se sujeitam a tudo o que lhes é dito e aconselhado por terceiros, no seu conhecimento e experiência. E não acredito que os profissionais façam o que façam, da forma que fazem, porque acreditam que é a melhor forma. Acredito que não existem muitas vezes condições para que seja dada mais humanidade ao momento do parto e aos momentos que se seguem entre mãe e bebé. O que não torna a questão menos pertinente.
O pensamento sobre a condição humana normalmente é tingido pela nossa cultura, ou seja, é subjetivo, pois ninguém pode olhar de fora do caminho em que estamos. Isso gera um problema importante: há uma cultura pequena inserida em outra que a contém, que está dentro de outra que a contém, e assim por diante. No fim, Oriente e Ocidente compartilham algo em comum há cerca de 5 mil anos ou mais: o patriarcado como sistema de organização social. O patriarcado se baseia na submissão. Em princípio, da mulher em relação ao homem e da criança em relação ao adulto.
(…)
A ferramenta mais importante para obter a submissão das mulheres tem sido a repressão sexual.
(…)
É importante levar em conta que, além da submissão e da repressão sexual histórica, as mulheres parem em cativeiro. Há um século – à medida que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, nas universidades e em todos os circuitos de intercâmbio público – cedemos o último bastião do poder feminino: a cena do parto. (…) Entregamos o parto. Foi como vender a alma feminina ao diabo.
Entregar o parto supõe abandonar nas mãos de outros a vinda do indivíduo que nasce nesse instante. Se estamos confirmando a importância da biografia humana de cada indivíduo e qualidade da maternagem recebida, não há dúvida de que a maneira como a cria humana é recebida será fundamental na constituição do personagem e na posterior armação da trama familiar.
(…)
Além disso, estamos cortadas de nosso ser essencial, com o qual sequer sentimos a necessidade visceral de ter a criança em nossos braços. É assim que a maquinaria ancestral do patriarcado continua funcionando à perfeição. Cada criança não tocada por sua mãe é uma criança que servirá à roda da indiferença, à guerra e à submissão de uns pelos outros.
Do ponto de vista da criança, a decepção é enorme. Porque a necessidade básica primordial de toda criança humana é o contato corporal e emocional permanente com outro ser humano. No entanto, se sustentamos a repressão de nossos impulsos básicos como bastião principal, essa demanda de contato da criança vai se transformar em um problema. Preferimos nos afastar de nosso corpo. Nenhuma outra espécie de mamíferos faria algo tão insólito com a própria cria.Mas para os humanos é comum determinar que o melhor ” é deixá-lo chorar”, “que não fique mal mal acostumado” ou “que não fique manhoso”. Para nós é totalmente habitual que o corpo da criança esteja separado: apenas no berço. Apenas em seu carrinho. Apenas em sua cadeirinha. Supomos que deveria dormir sozinho. Cresce um pouco e já opinamos que é grande para pedir abraços ou mimos. Logo depois é grande para chorar. E sem dúvida sempre é grande para fazer xixi ou para ter medo de insetos ou para não querer ir à escola. Se tudo o que necessitava desde o momento de ser nascimento foi de contato e não obteve, sabe que seu destino é ficar sozinho.(…)
A repressão sexual encontrou na moral cristã sua melhor aliada. Porque utiliza ideias espiritualmente elevadas como o amor a Deus para esconder uma realidade mais terrena e desprovida de atributos celestiais: a necessidade de possuir o outro com um bem próprio.
(…)
Quando precisamos determinar as dinâmicas familiares ou o grau de desamparo emocional sofrido durante a primeira infância, a investigação sobre a moral religiosa da mãe será um dado fundamental.
Não é novidade para ninguém que somos fruto não só da nossa educação mas da forma como nos relacionamos com os nossos contextos. Tomamos muitas vezes para nós o que não é nosso. Assumimos verdades que não são a nossa verdade. Identificamo-nos (ou somos identificados) com um rebanho ao qual, muitas vezes, não pertencemos.
Criamos padrões, automatismos, formas de reagir e de nos comportarmos, de acordo com os exemplos/modelos que vamos tendo e das nossas experiências de vida. Consideramos esses comportamentos muitos “nossos”, mas a probabilidade de estes serem efectivamente individuais, é muito baixa, mesmo que não tenhamos consciência disso.
A maioria das pessoas reage a ideias comuns que funcionam no automático, mais ligadas ao medo do que a qualquer outra coisa. Medo de ser diferente, medo de pensar com autonomia, medo de refletir e de nos tornar responsáveis por nós mesmos. É mais fácil ser parte do rebanho do que encarregar-se da própria individualidade.
A autora apresenta alguns factores que poderão influenciar o indivíduo, relativamente a essa falta de autonomia. Atribui um grande peso ao sucesso ou não da auto-regulação de cada um, desde o nascimento, como factor decisivo para o desenvolvimento da nossa autonomia. Atribui uma importância vital, nesse sentido, ao papel da mãe à forma como as necessidades do bebé são ou não satisfeitas. O bebé “aprende” ou assimila desde cedo que deverá ajustar-se a regras externas, que muitas vezes não são coerentes com a sua natureza, obrigando-o a adaptar-se, a resignar-se.
Desde cedo a criança percebe que terá de se submeter à submissão, como forma de conseguir ver as suas necessidades atendidas. O ritmo individual não é, demasiadas vezes, tido em conta… quanto mais respeitado..
As pautas externas funcionam em nosso mundo porque não permitimos à criança recém-nascida nem à criança um pouco maior respeitar seus impulsos básicos, até que elas se esquecem deles por completo.
(…)
Se não podemos comer quando temos fome, se não podemos nos negar comer quando simplesmente o apetite não vem, se não podemos nos amparar nos braços de nossa mãe quando necessitamos dela, se nosso pulso interno não se mostra e nos vemos obrigados a nos acomodar a regras externas, então qualquer ordem, qualquer caminho, qualquer decisão será imposta facilmente, porque não temos registro de nosso próprio ritmo.
A autora atribui de uma forma muito directa (como é, aliás, todo o seu discurso), a privação do prazer físico sensorial durante a primeira infância como a principal causa da violência social.
A privação de prazer corporal nas criaturas é directamente proporcional ao desenvolvimento da violência em todas as suas formas.
A verdade é que acabamos por impôr regras a nós próprios, enquanto pais, de acordo com o que é social e culturalmente aceitável e comum, sem sabermos muitas vezes qual a nossa posição em relação a essas regras. Nem chega a ser uma opção porque nem dedicamos muito tempo à ponderação do que nos faz mais sentido, é mais uma imposição silenciosa e mais ou menos invisível do nosso contexto.
Desde cedo somos empurrados para a “manada” e acabamos por deixar de saber sentir ou de saber distinguir o que é o nosso instinto. Torna-se mais fácil e “óbvio” seguir o que todos seguem, porque é o que todos fazem… Com sorte, vamos sentindo, ao longo do processo de maternidade, se o nosso instinto está de acordo com as decisões que tomamos (numa ordem paradoxalmente inversa!), se nos sentimos em paz e confortáveis com as “nossas” opções, no que se refere à nossa relação com a criança.
A autora vai mais longe e refere, generalizando, que na lógica da sociedade patriarcal, nos preocupamos mais ou menos inconscientemente em gerar guerreiros, para que sejam capazes de “vingar” em sociedade.
Não é verdade que nos importa o bem-estar de nossa cria. Pelo contrário, o propósito é que a criança sofra na medida suficiente para que logo seja capaz de reagir com ira para dominar os outros.
Para todos nós, o amor é uma necessidade fundamental. Um bebê que não tenha sido “humanizado” através do amor e do sustento materno no início de vida vai sofrer um processo de “desumanização com as consequentes reações agressivas, já que aprendeu a se adaptar a um entorno carente em termos afetivos.
Falava acima de pressões sociais, de “verdades” nossas ou impostas, de contextos que nos afectam e afectam a nossa forma de ver e viver as experiências. Falava da autonomia que nos permitiria fazer as nossas próprias escolhas e nos permitiria ouvir-nos e agir, respeitando-nos.
Ao longo do nosso percurso de desenvolvimento somos confrontados constantemente com as ideias dos outros, com o “sentido” em que segue a sociedade e torna-se muito difícil agirmos com autonomia e assumirmos a nossa individualidade. É preciso uma “raíz” muito forte e consistente que começa a formar-se desde o nascimento.
Se não tivermos essa raíz suficientemente cuidada, poderemos iludir-nos e pensar que somos autónomos e que temos a nossa opinião, mas isso poderá não ser necessariamente o caso, na realidade.
Quando pensamos na condição humana acontece a mesma coisa. Acreditamos que temos objetividade para pensar, mas na realidade estamos todos dentro do mesmo nicho, que é o nicho do Patriarcado; a tal ponto que supomos que o ser humano “é” guerreiro, depredador e manipulador, sendo próprio da espécie sentir ódio, rancor e vontade de destruir. Sair do nicho é muito difícil, a menos que estejamos dispostos a questionar tudo o tempo todo. É de deixar qualquer um esgotado, sem dúvida.
(…)
Em parte é lógico que todos nós transitemos pelo nicho habitual, porque é o caminho que conhecemos. Também é verdade que nos acomodamos e então dizemos a nós próprios que é o único caminho existente. Ou seja, mentimos para nós mesmos com objetivo de não perder o conforto obtido. Pois bem, aí sim temos uma responsabilidade. A de decidir que não queremos tomar consciência do que há além “disso” que nos foi dado.
(to be continued….)